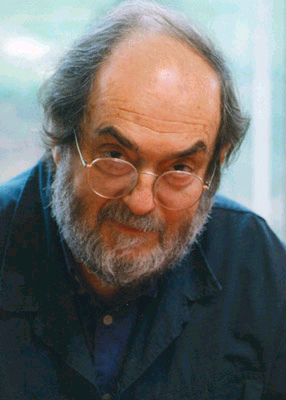um modelo para a divulga??o internacional do cinema portugu?s
Hotel Real-Pal?cio, Lisboa, 19 de Novembro de 2003
O cinema portugu?s ? um assunto dif?cil e, at?, politicamente desconfort?vel e melindroso. Possa algu?m colocar-se na posi??o de um indiv?duo razoavelmente bem informado sobre a situa??o internacional do cinema e um conhecedor relativo da diversidade das suas propostas, ficar? chocado pelo contraste gritante entre a imagem e a reputa??o internacional do cinema portugu?s e a press?o pol?tica e social a que ele tem sido, ininterruptamente, sujeito, em Portugal, desde h? mais de vinte anos. Nalguns casos, mesmo, a hipocrisia pode chegar muito longe: quase todos os cineastas portugueses puderam j? testemunhar, in?meras vezes, discursos dos "seus" pol?ticos a defenderem posi??es internacionais sobre a "genialidade", o "exemplo" ou a "grandeza" do cinema portugu?s, que s?o depois incapazes de exprimir - como seria, seguramente, muito mais ?til - dentro do seu pr?prio pa?s.
Este amargo diagn?stico retrata bem o modo como o prest?gio internacional dos filmes portugueses e dos seus realizadores tem ferido, ?s vezes brutalmente, a sensibilidade de um mundo pol?tico habituado a encarar o cinema como um divertimento nacionalista e que tem, ao longo do tempo, exprimido a sua posi??o nessa rela??o atrav?s das maiores press?es poss?veis, sejam elas de natureza pol?tica, econ?mica, legislativa.
? uma situa??o que vem de longe. Que vem, por exemplo, da sombra de uma cinematografia med?ocre e recuada no tempo, periodicamente celebrada pelas televis?es e jogada, tamb?m periodicamente, contra o cinema portugu?s contempor?neo, por pol?ticos e comentadores de toda a esp?cie. Momento chave de viragem e ruptura ter? sido a apresenta??o p?blica, em 1971, do primeiro dos filmes sa?dos do protocolo firmado entre a Funda??o Gulbenkian e o rec?m-criado Centro Portugu?s de Cinema - O Passado e o Presente, de Manoel de Oliveira -, numa sess?o que contou ainda com a projec??o de um filme directamente encomendado pela Funda??o - A Pousada das Chagas, de Paulo Rocha. No discurso de abertura dessa sess?o, e em representa??o do CPC, o cineasta Fernando Lopes dilatava, inesperadamente, as margens da grande mudan?a que se preparava, ao dizer: "Hoje que o cinema passou o seu meio s?culo de exist?ncia e quando nomes como os de Griffith, Eisenstein, Murnau, Dreyer, Rossellini, Bergman, Jean Renoir ou Godard, se contam entre os valores mais importantes da cultura ocidental, ao lado de Joyce, Picasso e Stravinsky, n?s portugueses e cineastas come?amos a ver, com mais claridade e confian?a, o cinema, como facto cultural, reconhecido p?blica e oficialmente".
J? por v?rias vezes assinalei a import?ncia desta declara??o de Fernando Lopes e o modo como ela reivindicou para o Cinema Novo portugu?s um espa?o in?dito, cuja novidade ? dupla: porque se tratava de inscrever a cria??o cinematogr?fica portuguesa na hist?ria do cinema; porque se tratava, tamb?m, de a inscrever no movimento geral da cria??o art?stica internacional. Por essa dupla direc??o, ? uma declara??o que simboliza, ao mesmo tempo, o fim do cinema nacional - do cinema do Estado Novo - e o in?cio do que poderemos chamar de "cinema portugu?s".
Este movimento de "liberta??o" acentuou-se a partir de 1974. A curiosidade internacional sobre a situa??o pol?tica portuguesa atraiu o olhar dos media mundiais, embora n?o se possa dizer - e curiosamente - que tenha sido atrav?s do cinema militante ou mais directamente politizado que o cinema portugu?s tenha aberto as portas da Europa e do mundo. Independentemente de momentos e acontecimentos conjunturais importantes, ocorridos durante a d?cada de 60, ? f?cil apontar a divulga??o internacional de dois filmes portugueses, no final da d?cada de 70, como o momento de arranque desta grande curiosidade da cr?tica internacional por uma cinematografia que, pela sua raridade e pelas suas dificuldades de produ??o e circula??o, era, at? a?, praticamente desconhecida. Refiro-me a Amor de Perdi??o, de Manoel de Oliveira e a Tr?s-os-Montes, de Ant?nio Reis e Margarida Cordeiro. Numa cr?nica publicada na revista Cahiers du Cin?ma, em Abril de 1981, pelo influente cr?tico Serge Daney, era feito um resumo lapidar das raz?es que passaram a nortear o interesse internacional pelo cinema portugu?s: "Nenhum filme portugu?s tem condi??es para disputar p?blico aos filmes indianos (para n?o falar dos americanos) que enchem as salas de Lisboa. A situa??o ? ainda mais dif?cil por o cinema portugu?s, reduzido a seis filmes por ano, ser um cinema de autores, de inventores isolados, de `bricoleurs' obsessivos. O tra?o comum que liga os bons cineastas portugueses (de Oliveira a Reis, Paulo Rocha ou o rec?m chegado Jo?o Botelho) ? a sua integridade de artistas, no sentido mais rom?ntico do termo. ? tamb?m uma certa rela??o que eles estabeleceram com a hist?ria de Portugal, uma rela??o de luto, arqueol?gica, forte e surda. Se os cineastas portugueses n?o conseguiram falar bem e a quente do 25 de Abril (o melhor documento sobre essa ?poca - Torre Bela - ? da autoria de Thomas Harlan, um estrangeiro), t?m conseguido, em contrapartida, falar do passado com os meios mais modernos da sua arte".
? bem isto, ent?o, que passar? a estar em causa na qualidade paradigm?tica da "escola portuguesa", que muitos n?o hesitam em classificar como uma das ?ltimas grandes escolas (livres) de cinema do mundo. Liberto das press?es industriais, o cinema portugu?s singularizou-se em propostas extremas e em vocabul?rios formais que quase ningu?m, no mundo, ousa praticar. Os filmes s?o verdadeiros prot?tipos e ? nessa qualidade e nessa diferen?a que s?o recebidos e saudados nas Selec??es Oficiais dos maiores festivais de cinema: Cannes, Veneza, Berlim, Locarno, Nova Iorque, Toronto... Um pouco por todo o mundo s?o organizadas retrospectivas de autores (Oliveira, Paulo Rocha, C?sar Monteiro, Jo?o Botelho, Pedro Costa), ou mostras significativas do cinema portugu?s contempor?neo. Apesar da raridade da produ??o, n?o s? os filmes portugueses conseguem entradas em mostras extremamente selectivas como arrebatam pr?mios de extrema import?ncia (Oliveira, em Cannes e Veneza, Jo?o C?sar Monteiro, por duas vezes em Veneza).
Mais do que um cinema "resistente", a "excep??o portuguesa", como lhe chamou Roberto Turigliatto, organizador da importante mostra de Turim, em 1999, ? um cinematografia dissidente, que p?de recusar (pela fal?ncia do seu "projecto industrial") submeter-se aos modelos americanos e ? ideologia corporativa que lhe est? associada, optando por desenvolver - a par com outras cinematografias e outros cineastas, espalhados por todos os continentes - uma estrat?gia de combate pela afirma??o de um idioma pr?prio, que se expressa, antes de mais, na forma dos filmes e, s? depois, no imagin?rio que essas formas materializam. O cinema portugu?s n?o ? um cinema de actores, produtores ou promotores, mas um cinema de cineastas que cumpriram, integralmente, mas cada um ? sua maneira, o programa anunciado, h? mais de vinte anos, na declara??o de Fernando Lopes. ? um cinema de combate, tamb?m: combate contra Hollywood e os seus modelos de coloniza??o (na cria??o e na distribui??o) e combate, tamb?m, contra os seus agentes nacionais (tantas vezes, o pr?prio poder pol?tico), figuras pardas de um sistema que o cinema portugu?s nunca quis tomar como seu, recusando, nesse gesto, submeter-se ? sua hegemonia, ? sua linguagem, ? sua forma de contar o mundo, e recusando comprometer-se com essas imagens de ilus?o em que os dominadores se habituaram a ver e a rever, numa hist?ria circular e intermin?vel, as raz?es de ser da sua pr?pria domina??o.
Citando, a este respeito, o cineasta Jo?o Botelho: "H? uma coisa que nos distingue em rela??o aos outros: em Portugal, ainda n?o h? - felizmente, mas n?o sei por quanto tempo - o peso insuport?vel das regras de mercado. E outra, que n?o tem pre?o: a liberdade com que se trabalha. Embora pouco a pouco a tentem cortar, eu ainda sou respons?vel, nos meus filmes, por tudo o que de bom e de mau h? neles... Agora ? evidente, que n?o ? f?cil: quanto mais violento e independente ? um cineasta, mais as portas se fecham. H? uma tend?ncia, h? uma corrida para destruir essa liberdade, embora a ?nica verdadeira censura, seja a econ?mica... Porque a verdade ? que se o dito cinema comercial portugu?s funcionasse mesmo, n?s desaparec?amos. A ?nica raz?o que determinou e determina que o peso art?stico seja sempre maior do que o peso comercial ? simplesmente o facto de n?o haver mercado interno para absorver o investimento financeiro de um filme. Mas isto n?o ? s? portugu?s; ? de todo o cinema europeu. ? certo que h? marcas no nosso cinema, que t?m a ver com o modo de produ??o, a maneira como se faz e o poder que temos perante o trabalho. H? ainda um grande controlo do realizador sobre o trabalho e a cria??o; o que d? produtos estranhos, diferentes, fora dos formatos".
Se tomei a liberdade de fazer esta longa introdu??o sobre aquelas que me parecem ser algumas das caracter?sticas dominantes da produ??o portuguesa, foi para melhor precisar essa ideia essencial de que um filme portugu?s - nas actuais condi??es culturais do cinema internacional - n?o se basta a si pr?prio. E sobre isto n?o h? que ter qualquer d?vida: n?o chega projectar numa sala qualquer em qualquer ponto do mundo um filme portugu?s para que tudo quanto esse filme tem a dizer ?s pessoas fique dito. Por qu?, perguntam-me ? Bem, a resposta ? simples e todos n?s a conhecemos: poucos filmes feitos fora do modelo americano t?m hoje qualquer hip?tese de sobreviv?ncia cultural num mundo hegemonicamente dominado por esse modelo e pela sua forma de contar a hist?ria (todas as hist?rias). Dramaticamente, isto ? assim e ser? cada vez mais assim. Os n?meros s?o frios, mas eloquentes. Hollywood produz, por ano, cerca de 700 filmes, um n?mero sensivelmente id?ntico ao volume da produ??o europeia e, at?, ligeiramente, inferior ao da produ??o indiana. Estes 700 filmes s?o feitos, no entanto, com o dobro do dinheiro do resto de toda a produ??o mundial. A amortiza??o e o lucro deste gigantesco neg?cio deixou de ser, h? muito, uma quest?o dom?stica. Hollywood precisa de dominar (como domina) todo o mercado mundial. Pode, at?, perguntar-se que espa?o para a cultura pode ser reservado num neg?cio de 6 bili?es de euros anuais, o montante global das receitas de exporta??o da ind?stria cinematogr?fica americana, em 2000. E a situa??o ? ainda mais grave, porque, ao contr?rio do que se pensa, o cinema americano n?o ? o cinema que se faz na Am?rica. Bem pelo contr?rio, o conceito de na??o ?, mesmo, irrelevante para o cinema americano que, na verdade, se faz um pouco em todo o mundo e tem os seus agentes bem implantados no mundo pol?tico, no universo da produ??o e da distribui??o, nas escolas de cinema - que repetem, at? ? insensatez tecnocrata, as f?rmulas americanas de produzir e realizar cinema - e, principalmente, nas salas de cinema. ? exactamente este sentido hegem?nico da produ??o cinematogr?fica americana que faz dela uma arma fort?ssima na submiss?o dos imagin?rios nacionais e, at?, transculturais e transnacionais que se lhe op?em. Porque - entendamo-nos sobre este ponto - a quest?o no cinema ? sempre a de saber o que acontece no ecr?, quem l? est?, como est? e no lugar de quem est?. Ao falar-se de ind?stria, espect?culo, entretenimento, est? a falar-se, na realidade, deste modelo: em que os filmes t?m vedetas no lugar de pessoas reais, um modo de filmar comum a todos os filmes, independentemente dos mundos que retratam, de filmes feitos para agradar e produzir um p?blico j? constitu?do pelo cinema americano, e ao qual todas as cinematografias parecem ser for?adas a obedecer para poderem sobreviver. Qualquer filme feito com base em tais pressupostos far? parte, inevitavelmente, deste processo de hegemonia na representa??o do mundo, de que Hollywood, pelas raz?es que j? apontei, constitui uma pe?a log?stica fundamental. Roubando-nos os olhos, o Imp?rio rouba-nos a alma, pondo no lugar das nossas vacilantes e particulares utopias uma colec??o esfarrapada de imagin?rios de importa??o (narrativos e formais) prontos a vestir, a consumir e - seu supremo des?gnio - prontos a reproduzir-se e a reproduzir-nos.
Apesar disto, por?m, todos n?s reconhecemos as enormes potencialidades do cinema, como testemunho, como fundo hist?rico/documental, como elemento primordial de aproxima??o ? arte como, finalmente, vector privilegiado de consciencializa??o sobre a diversidade do mundo e a imagem de humanidade que nessa consci?ncia se projecta. Julgo que uma nova (e necess?ria) perspectiva sobre esta quest?o depende muito de uma outra vis?o sobre o que a hist?ria do cinema (e n?o s? do cinema portugu?s) e a verdadeira identidade do seu patrim?nio. Penso, neste contexto, que o grande erro do cinema europeu - e do cinema portugu?s - foi ter considerado (e continuar a considerar) os filmes como qualquer coisa de pens?vel e ger?vel em total separa??o do seu p?blico hist?rico, nesse contexto geral de deprecia??o dos valores culturais nos processos de educa??o no continente europeu, que parece estar, assim, condenado, pela falta de imagina??o dos seus dirigentes e pol?ticos, a ser um "continente t?cnico-profissional".
Projectada sobre a hist?ria do cinema, a vis?o europeia tem imediatas consequ?ncias: tratamos cada vez melhor dos nossos filmes, como pe?as de museu; cuidamos pessimamente da mem?ria do p?blico, como uma outra dimens?o (humana) desse patrim?nio. Penso assim que um novo contexto (muito mais diversificado) de exist?ncia do cinema deve partir da ideia que ? necess?rio cuidar t?o bem dos filmes como do olhar que o p?blico tem ou teve sobre eles. Fazer com que esse olhar integre o patrim?nio do cinema. Pens?-lo como um elemento fundamental de uma nova ideia de cinemateca.
Assim, entendo, n?o ser substancialmente diferente o que h? a fazer no mundo pelo cinema portugu?s do que h? a fazer dentro do nosso pr?prio pa?s: junto das escolas, nas autarquias, nos cineclubes, etc. Trata-se de inscrever o cinema portugu?s na agenda de uma pol?tica cultural que vise a forma??o, consolida??o e promo??o de uma cultura cinematogr?fica e nacional cujo aspecto essencial implica uma no??o mais alargada do que se considera ser o patrim?nio cinematogr?fico de uma dada cultura, neste caso, a portuguesa; este ? n?o s? constitu?do pelo universo dos criadores e das obras criadas, mas tamb?m, pelo p?blico e pelas formas como o p?blico de uma determinada ?poca for capaz de transmitir ?s gera??es seguintes uma ideia de cultura em que o cinema desempenhe - a par com outras artes - um papel importante e, at? pontualmente, decisivo.
Como se far? tal coisa, perguntam-me. Bem, em primeiro lugar, compreendendo o aspecto preciso e precioso de que se reveste a apresenta??o de um filme, a dimens?o singular desse acontecimento para as pessoas que o v?em e que, livremente, tomaram a op??o de o ver: decerto entre outras escolhas, muitas vezes com alguns pequenos sacrif?cios e contratempos nas suas vidas pessoais. O que se lhes pode dar ? Bem, a resposta talvez vos confunda: mas, precisamente, o mesmo que lhes d? o cinema americano: porque os filmes americanos tamb?m n?o se fazem e se mostram s? por causa do cinema, tamb?m eles precisam de ser promovidos, tamb?m eles precisam de atrair os seus espectadores, atrav?s do marketing e da publicidade (que absorvem mais de metade do or?amento da produ??o), tamb?m eles precisam de dirigir a aten??o das pessoas, pondo em evid?ncia, para cada caso, certos aspectos particulares: os actores, o g?nero, os efeitos especiais e por a? fora.
A pergunta que devemos seriamente colocar ? assim a de saber se no nosso cinema n?o teremos tamb?m n?s valores para p?r em evid?ncia. Seguramente que sim. Mas s?o outros valores: os nossos filmes s?o falados numa l?ngua de pouca circula??o, n?o possu?mos grandes aparatos de produ??o ou de marketing, n?o temos vedetas internacionais, nem procuramos uma rentabiliza??o desesperada no mercado. Temos, no entanto, para oferecer, uma cinematografia original, profundamente implicada com a nossa hist?ria e extremamente aberta aos seus sinais; temos uma cinematografia que responde excepcionalmente bem ?s interpela??es mais profundas da nossa pr?pria cultura, que nunca foi, exactamente, uma cultura da pura fic??o ou da ilus?o, mas, antes, uma cultura que se exprimiu, sobretudo, atrav?s da poesia e da cr?nica (Fern?o Lopes, Cam?es, Vieira, Pessoa). Temos uma cinematografia feita de filmes raros e muito diferentes, cada um deles pronunciando a sua rela??o ao pa?s, ao seu presente e ? sua hist?ria, com um vocabul?rio particular. Temos, finalmente, uma cinematografia que procura dialogar com um espectador que ?, para n?s, um ser vivo e n?o, apenas, o instrumento (ou o objecto) de uma ind?stria e de um neg?cio.
Reconhe?o que tudo isto ? importante - tudo isto faz parte dos valores que muitos de n?s nos habitu?mos a reconhecer no cinema -, mas que nada disto ? muito simples de apresentar ou, vamos l?, muito simples de "vender". N?o ? simples aqui, muito menos o ser?, al?m. Mas ? poss?vel: se tantos viram no cinema portugu?s os tra?os dessa "excep??o" que se chegou at? a admitir como uma das poucas esperan?as de resist?ncia ao receitu?rio americano, n?o ser? poss?vel mostrar essas tra?os a muitos outros ? Decerto que sim, mas tamb?m, decerto, que nada disto se far? sem trabalho e trabalho s?rio e a s?rio. Do que se trata ? de montar, lentamente, uma grande rede de cumplicidades e de a saber estender, conferindo-lhe, progressivamente, uma cada vez maior autonomia.
Permitia-me apontar dois n?veis, que podem servir como ponto de partida para uma discuss?o de um modelo de divulga??o internacional do cinema portugu?s:
- um primeiro n?vel diz respeito aos espectadores, a esse p?blico que se desloca a uma sala para ver um filme portugu?s, provavelmente, at?, um programa inteiro de filmes portugueses. ? preciso preservar esses espectadores, dialogar com eles, de uma certa forma, cultiv?-los. Esses espectadores n?o s?o n?meros de cadeiras, s?o pessoas que v?m a nossa casa; que escolheram a nossa casa, em vez de outra. Aproveite-se a oportunidade que nos deram e d?-se a esses espectadores um pouco mais do que a simples vis?o de um filme ou de um conjunto de filmes: em vez de pipocas, fale-se um pouco de Portugal, em vez da coca-cola, fale-se um pouco do cinema que c? existe, do modo como ele ? feito e dos valores que nele se expressam. Fale-se da sua diferen?a e das raz?es dessa diferen?a. Motive-se, finalmente, uma outra realidade do cinema, para al?m das suas fun??es de entretenimento, afinal de contas a realidade em nome da qual essas pessoas (pelo menos, uma parte delas) foram assistir a essa projec??o. Haver? nesses espectadores uma curiosidade pelo cinema (pela experi?ncia diversa do cinema), uma curiosidade por Portugal ou uma curiosidade pelo cinema portugu?s. Aprendamos que qualquer um destes interesses ? um ponto de partida excepcionalmente rico e motivador.
- um segundo n?vel, diz respeito ? pr?pria estrutura que suporta ou deve suportar este esfor?o. J? se disse, os filmes n?o podem ser simplesmente atirados para uma sala ou escolhidos ao acaso (por qualquer crit?rio disparatado: por serem os mais recentes, por exemplo). ? necess?rio um certo n?vel de concerta??o institucional, que passar?, for?osamente, pelos Minist?rios da Cultura e dos Neg?cios Estrangeiros, mas tamb?m pelo ICAM, pelo Instituto Cam?es, pela Cinemateca Portuguesa e, genericamente, pela mobiliza??o de todas as estruturas locais que suportem um interesse genu?no pela cultura portuguesa (universidades, por exemplo). Depois, ? necess?rio definir programas estrat?gicos de filmes, cujo crit?rio mais importante ?, sem d?vida, a oportunidade que oferecem para trabalhar sobre as suas rela??es. E este trabalho ? absolutamente decisivo; sem desvirtuar a originalidade de cada filme, ? preciso ter qualquer coisa para dizer sobre aquilo que os aproxima e afasta e ? preciso trabalhar sobre isso, a um n?vel absolutamente preciso, diria mesmo, did?ctico.
Com tudo isto quis dizer o muito que ? preciso trabalhar para p?r a dimens?o genu?na da cinematografia portuguesa a saltar ? vista dos que - pelas mais diferentes raz?es - a procuram. Esse trabalho ?, como j? disse e procurei demonstrar, um trabalho t?o complexo como o de vender qualquer filme americano. Cada um joga com as armas que tem (que s?o muito diferentes), no mercado que quer ou pode, legitimamente, disputar (a subalternidade). As nossas armas s?o umas e n?o outras. ?, simplesmente, preciso p?-las a mexer e a agir no contexto de uma estrat?gia global de promo??o mas, tamb?m sobretudo, de compreens?o e cumplicidade. Antes disso, por?m, ? preciso pensar. Creio que se pensarmos e fizermos bem, tal contribuir? para fazer de Portugal um pa?s mais interessante e partilh?vel, e do cinema um territ?rio mais rico, intenso e democr?tico. ? um jogo sem perdas e onde - creio - haver? muito da nossa identidade, universalidade e reputa??o a ganhar. Foi essa, afinal. a melhor (talvez a ?nica li??o) que o cinema americano nos foi dando durante a longa (e, por vezes, penosa) hist?ria da sua intransigente domina??o: na cultura, n?o h? nunca verdadeiramente nada a perder; ? s? preciso acreditar.
Posted by jmgriloportugal
at 9:19 AM EST